
No coração da Amazônia, o medo substituiu a esperança de muitas mulheres indígenas. Em comunidades como Sai Cinza, no território Munduruku, no Pará, gestar uma criança tornou-se um ato de coragem. Rios que antes garantiam alimento e vida agora trazem uma ameaça silenciosa: o mercúrio despejado pelo garimpo ilegal. O metal, usado para separar o ouro do cascalho, está se infiltrando nas águas, nos peixes e, finalmente, no sangue, no leite materno e nas placentas das mulheres da floresta.
Entre os rostos dessa tragédia está o de Rany Ketlen, uma menina de três anos que nunca conseguiu sustentar a própria cabeça e sofre de espasmos musculares. Ela é uma das 36 pessoas na região — em sua maioria crianças — que apresentam distúrbios neurológicos inexplicáveis por causas genéticas. Agora, uma pesquisa apoiada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) pode estar prestes a confirmar o que as mães indígenas já suspeitam há anos: a ligação direta entre o mercúrio do garimpo e as deficiências em seus filhos.
O estudo, que deve ser concluído até o fim de 2026, busca evidências concretas de que a contaminação está provocando danos cerebrais em recém-nascidos e crianças pequenas. Os pesquisadores acompanham 176 mulheres grávidas, medindo a concentração de mercúrio em seus corpos e observando o desenvolvimento dos bebês. Os primeiros dados são alarmantes: em Sai Cinza, as mães apresentam níveis de mercúrio cinco vezes superiores ao limite considerado seguro pelo Ministério da Saúde, e seus filhos, três vezes mais.
Para o pesquisador Paulo Basta, da Fiocruz, que estuda o tema há mais de três décadas, trata-se de uma crise de saúde pública que não desaparecerá mesmo que o garimpo pare hoje. “O mercúrio não se decompõe. Ele continua circulando por décadas no ar, na água e no solo”, explica. Em 2021, Basta já havia constatado níveis perigosos do metal em 10 das 15 mães testadas em aldeias Munduruku. Casos semelhantes foram encontrados entre os Yanomami e os Kayapó, onde o garimpo também avança sem trégua.

VEJA MAIS: Mercúrio ilegal da Indonésia contamina mercados domésticos e internacionais
O dilema é cruel: comer peixe contaminado ou passar fome. O cacique e enfermeiro Zildomar Munduruku explica que o surubim e outras espécies de rio são a base da alimentação de seu povo. “Se a gente obedecer às regras das autoridades de saúde, a gente vai passar fome”, lamenta.
A tragédia ganha contornos ainda mais urgentes às vésperas da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, que acontecerá em Belém. O governo brasileiro, sob a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem tentado reverter os danos causados por anos de avanço do garimpo ilegal. Desde 2023, operações federais expulsaram milhares de mineradores de terras indígenas e reforçaram o monitoramento ambiental. O Ministério da Saúde também ampliou a vigilância de mercúrio nos territórios indígenas e investiu em acesso à água potável. Mas o estrago, dizem os cientistas, já está espalhado por gerações.
O metal pesado, usado pelos garimpeiros para aglutinar partículas de ouro, é altamente volátil. Uma vez liberado, se transforma em metilmercúrio — uma substância neurotóxica que contamina os peixes e se acumula no organismo humano. Essa bioacumulação atinge principalmente mulheres grávidas e crianças, cujos sistemas nervosos estão em desenvolvimento.
A enfermeira Cleidiane Carvalho, que há anos conecta pesquisadores a comunidades indígenas afetadas, teme que a tragédia se torne invisível. “Se você não procura, também não vai encontrar. Sem esses estudos, a crise será silenciada para sempre”, alerta.
Os desafios científicos são enormes. A Fiocruz e a Universidade de São Paulo (USP) investigam os casos com o apoio do geneticista Fernando Kok, que tenta descartar outros fatores de risco, como doenças infecciosas e casamentos consanguíneos. Provar a relação causal entre mercúrio e as deficiências neurológicas exige tempo, análises detalhadas e acompanhamento contínuo das famílias.
Mesmo assim, o consenso entre especialistas é claro: o garimpo ilegal está envenenando corpos e futuros. Como aponta Basta, os 546 casos de contaminação documentados até março de 2025 “são apenas a ponta do iceberg”. As estimativas sugerem que dezenas de milhares de pessoas possam estar contaminadas em toda a Amazônia.
O ouro, que brilha como promessa de riqueza imediata, tem deixado um rastro de silêncio e dor nas aldeias amazônicas. Enquanto a comunidade internacional se prepara para discutir o clima e a justiça ambiental na COP30, as vozes de mulheres como Alessandra Korap e Cleidiane Carvalho ecoam como um lembrete urgente: o que está em jogo não é apenas a floresta, mas a própria sobrevivência dos povos que a guardam.


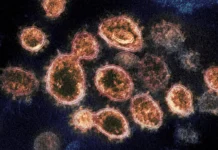





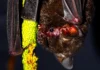



Você precisa fazer login para comentar.