
A entrada em vigor do Tratado do Alto-Mar, em janeiro de 2026, colocou o Brasil diante de um espelho desconfortável. No plano diplomático, o país chegou cedo, articulou alianças, ratificou o acordo ainda em dezembro de 2025 e reafirmou seu histórico protagonismo ambiental. No plano tecnológico, porém, a imagem refletida revela um hiato profundo. Entre a soberania jurídica garantida no papel e a capacidade concreta de atuar nas regiões mais remotas do oceano, abre-se um vazio que ameaça transformar o Brasil em mero observador de uma das maiores fronteiras estratégicas do século 21.
O acordo, oficialmente conhecido como Tratado sobre a Biodiversidade Marinha em Áreas Além da Jurisdição Nacional (BBNJ), redefine as regras de acesso, proteção e repartição de benefícios no alto-mar. Mas também expõe uma verdade incômoda: quem não dispõe de tecnologia para alcançar as grandes profundezas dificilmente conseguirá exercer influência real sobre elas. Em um oceano que ultrapassa 10 quilômetros de profundidade em algumas regiões, o poder não está apenas nos tratados, mas nos submersíveis, sensores e laboratórios capazes de descer onde poucos chegam.
O abismo entre o direito e a capacidade técnica
O Brasil controla uma das maiores zonas econômicas exclusivas do mundo, a chamada Amazônia Azul, com cerca de 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Ao ratificar o Tratado do Alto-Mar, o país ampliou sua responsabilidade para além dessas fronteiras, passando a ter voz ativa sobre áreas internacionais que influenciam diretamente seus ecossistemas costeiros, sua pesca e sua segurança climática. O problema é que o monitoramento tradicional, baseado em superfície e órbita, não alcança o fundo do mar.
Explorar regiões abissais exige submersíveis de águas ultraprofundas, capazes de resistir a pressões extremas, além de sistemas avançados de coleta e análise genética. Pouquíssimos países dominam plenamente esse tipo de tecnologia. China, Estados Unidos, Japão e algumas nações europeias operam frotas capazes de atingir grandes profundidades. O Brasil, apesar de sua tradição científica, ainda não dispõe de meios próprios para investigar de forma sistemática ambientes que ultrapassam 6 ou 7 mil metros, quanto mais fossas que chegam a 10 quilômetros.
Esse limite técnico tem implicações diretas. Recursos genéticos marinhos encontrados em águas internacionais são cada vez mais disputados pela indústria farmacêutica, cosmética e biotecnológica. Sem capacidade de coletar amostras ou produzir dados primários, o país corre o risco de depender de informações estrangeiras para defender seus interesses, inclusive quando impactos ambientais no alto-mar repercutem dentro de sua própria zona econômica.

A geopolítica das profundezas e a corrida pelo controle institucional
A disputa pela sede do secretariado executivo do Tratado do Alto-Mar ilustra como tecnologia e diplomacia caminham juntas. Bélgica, Chile e China apresentaram candidaturas com perfis distintos, mas todas lastreadas em infraestrutura científica robusta. A China, em especial, desponta como potência incontornável no campo da exploração oceânica profunda, operando alguns dos submersíveis mais avançados do mundo e investindo pesado em biotecnologia marinha.
O Chile, por sua vez, construiu sua estratégia a partir da relação histórica com o Pacífico e com a Antártida, uma região-chave para o equilíbrio climático global e para a elevação do nível do mar que afeta diretamente o litoral brasileiro. A Bélgica aposta em sua tradição científica e em sua inserção institucional na governança internacional.
O Brasil não entrou nessa disputa, mas acompanha o processo como ator central do multilateralismo ambiental. Sua força está menos na frota naval e mais no capital diplomático acumulado desde conferências como a Eco-92, além da reconhecida expertise em monitoramento ambiental por satélite, desenvolvida por instituições como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, responsável por sistemas como o PRODES e o DETER, referência mundial no combate ao desmatamento.
O desafio é transformar esse domínio orbital em capacidade marítima. Sensores ópticos e radares de abertura sintética já permitem identificar embarcações, pesca ilegal e manchas de poluição na superfície. Mas o fundo do mar permanece, em grande parte, invisível.
Transferência de tecnologia como linha de defesa estratégica
O Tratado do Alto-Mar não ignora essa desigualdade. Um de seus quatro pilares centrais é justamente a transferência de tecnologia marinha e o desenvolvimento de capacidades científicas em países em desenvolvimento. Em tese, isso cria uma salvaguarda para nações como o Brasil, garantindo acesso compartilhado a equipamentos, dados e conhecimento.
Na prática, porém, essa transferência dependerá de articulação política, pressão diplomática e capacidade interna de absorver tecnologia. Ter acesso a um submersível estrangeiro não basta se não houver equipes treinadas, laboratórios preparados e infraestrutura de processamento de dados. É nesse ponto que entram instituições nacionais como o Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas, que desponta como eixo potencial de coordenação científica, mas ainda carece de investimentos compatíveis com a ambição do tratado.
O acordo também estabelece a repartição justa de benefícios derivados dos recursos genéticos marinhos. Isso significa que, mesmo sem coletar diretamente uma amostra a 10 quilômetros de profundidade, o Brasil tem direito jurídico de participar dos ganhos econômicos associados a descobertas feitas em águas internacionais. Mas, novamente, sem dados próprios, a capacidade de reivindicar esses direitos fica fragilizada.

SAIBA MAIS: As mudanças climáticas na indústria global de frutos do mar
Monitoramento espacial, Amazônia Azul e o futuro da soberania
Enquanto a exploração abissal não se consolida, o monitoramento espacial segue como a principal linha de defesa da Amazônia Azul. Satélites com sensores de radar permitem identificar embarcações mesmo sob nuvens ou à noite, rastrear frotas envolvidas em pesca predatória e mapear rotas de interesse estratégico. Essas informações são essenciais para combater a biopirataria e para subsidiar decisões sobre áreas marinhas protegidas, objetivo central do tratado, que prevê a proteção de 30% dos oceanos até 2030.
Dados de agências como a NASA também ajudam o Brasil a compreender fenômenos globais que afetam diretamente sua costa, como a elevação do nível do mar provocada pelo degelo em regiões polares distantes. O oceano, afinal, não reconhece fronteiras políticas, e eventos ocorridos a milhares de quilômetros podem redefinir a linha costeira de cidades como Recife ou Rio de Janeiro.
O limite dessa estratégia é claro. Satélites observam a superfície; a biodiversidade mais valiosa, porém, está nas profundezas. Sem submersíveis, o país permanece dependente de terceiros para conhecer o que ocorre no fundo do oceano. Isso cria uma assimetria perigosa entre soberania jurídica e soberania tecnológica.
O Brasil chega ao Tratado do Alto-Mar como potência normativa, mas ainda não como potência abissal. Transformar esse quadro exigirá um novo ciclo de investimentos públicos, uso estratégico de instrumentos como encomendas tecnológicas, fortalecimento da pesquisa nacional e cobrança efetiva das cláusulas de cooperação internacional previstas no acordo. Caso contrário, o risco é claro: ratificar regras globais sem dispor dos meios para influenciar o jogo real que acontece a quilômetros abaixo da superfície. No século das profundezas, a tecnologia não é acessório da soberania. Ela é a própria soberania.

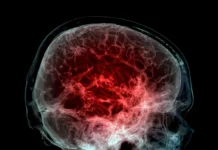










Você precisa fazer login para comentar.